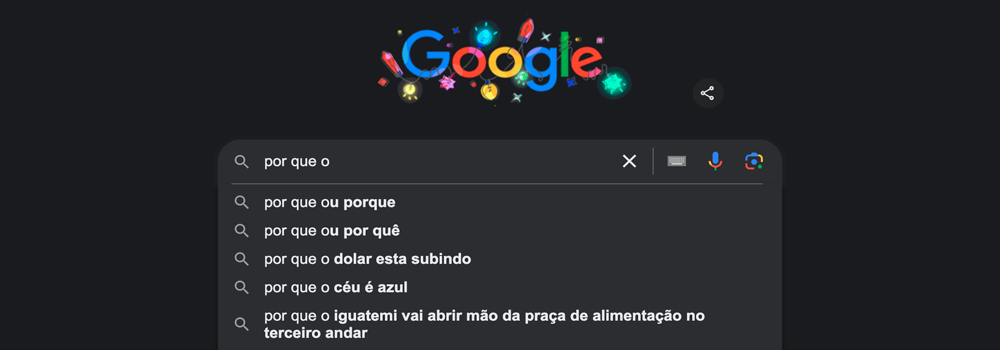Há cerca de 20 meses, apenas 20 meses, lambíamos nossas feridas de um amargo 7 a 1; o Twitter conclamava que #JeSuisCharlie; Birdman conquistava a estatueta de melhor filme; e Leonard Nimoy finaliza sua vida longa e próspera.
Há cerca de 20 meses, duas personagem despontavam no cenário político brasileiro. Dilma Rousseff, reconduzida à presidência para mais quatro anos de mandato após a mais disputada eleição presidencial da história brasileira; e Eduardo Cunha, deputado de pouco reconhecimento nacional (mas gigantesco cacife político no legislativo), recém-eleito à presidência da Câmara em 1° turno com 267 votos.
O interessante é como estas duas figuras de inegável destaque marcam profundamente esses 20 meses posteriores – tanto para suas carreiras políticas, quanto para o Brasil como um todo. A eleição de Cunha foi, para este ignóbil articulista, consequência de sucessivos erros de cálculo da presidência e do PT na tentativa de viabilizar um maior controle legislativo sem a ajuda de terceiros. O partido rompia o acordo com o apoio explícito que dera ao PMDB nos três mandatos anteriores para controle das casas; lançava, então, seu próprio candidato (Arlindo Chinaglia, PT/SP) e perdia de forma retumbante.
A partir daí, Cunha liderou uma exitosa campanha de agremiação de forças com partidos de oposição ao governo e com deputados do “baixo clero” da casa – aquele sem número de representantes com baixa visibilidade, produção legislativa ou força política, fruto muitas vezes do quociente eleitoral. Cunha não só vencera, como convencera significativa maioria da casa a partir de uma agenda conservadora e anti-governo. Seu discurso duro de independência da casa e a maioria que arregimentara o tornaria, durante alguns meses de 2015, a mais forte figura da política nacional.
Cunha crescia em força e capital política proporcionalmente ao que Dilma perdia o apoio da população e seu (já antes) frágil prestígio com seus pares. Cunha era já naturalmente cotado a candidato à presidência pelo PMDB em 2018; mais que isso: considerava-se (e ele, claro, apoiava) uma reforma política para implementação do parlamentarismo no Brasil.
Dilma, por sua vez, vivia seu inferno astral político no início de seu segundo mandato. Para começar, a crise econômica, já visível desde o fim de 2013, mas habilmente contornada durante o debate eleitoral, se consolidava como uma verdade para a população. Milhares, centenas de milhares e depois milhões de brasileiros perdiam seus empregos, eram acometidos por uma inflação muito acima da média e da meta e observavam que a conta do governo federal e dos seus estados simplesmente não fechavam. Empresas não mais investiam e começavam a fechar as portas. O dinheiro, farto e abundante nos anos anteriores, simplesmente sumiu. A economia primeiro estagnou, depois retrocedeu.
A onda de protestos populares de rua, reiniciada dois anos antes com uma pauta focada primeiro no Passe Livre, depois contra a Copa do Mundo e depois, bem, contra qualquer coisa, era retomada nos primeiros meses de 2015. Em março, mais de 2 milhões de pessoas e um índice de 13% de aprovação do governo; os que defendiam o governo, alardeando um “3° turno” da campanha de 2014, inflamado pelos partidos derrotados, misturado a uma ode à ditadura. O impeachment – até então fora de qualquer pauta, saiu dos sussurros e corredores de Brasília para as ruas de diversas cidades – à época, motivados por uma Operação Lava-Jato que ganhava mais e mais forma. Cunha, à época ainda aliado ao governo, alardeou que qualquer tentativa de impeachment não passava de um “golpismo”.
O ponto de ruptura definitiva desses dois personagens dessa história de 20 meses vem da própria Lava-Jato. Entre março e julho de 2015, Cunha, como presidente da Câmara, recebeu diversos pedidos de impeachment – já no primeiro mês, já tinha 15 na fila. E durante esses meses, os recusou ou postergou sua decisão. Não que Cunha fosse aliado da presidente – pelo contrário, a pauta imposta e votada na casa era sucessivamente de derrota para o governo Dilma. Se o Executivo precisava votar reformas estruturais para contenção de gastos, o Legislativo os ampliava. Não foram poucas as vezes que Joaquim Levy, o novo Ministro da Fazenda, ia ao Congresso pedir com veemência para que os projetos pudessem caminhar. E era ignorado.
O rompimento definitivo com o governo se deu logo após a delação de Julio Camargo, que acusava Cunha de lhe pedir US$5mi para a aprovação de um contrato da Petrobrás. No dia seguinte à delação, Cunha foi explícito de que rompia com o governo e que dificultaria ainda mais a vida de Dilma. Marcou, talvez o ápice de sua carreira política, um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Nunca um discurso de um chefe do Legislativo foi transmitido em cadeia nacional com tamanha expectativa como quando o deputado anunciava seu rompimento definitivo com o PT. O “House of Cunha”, como muitos alardeavam (com tom de humor ou temor), era cada vez mais real.
Mas o ápice no discurso também sinalizou o início da derrocada de Cunha. Mais e mais provas eram apresentadas contra o presidente da Câmara; o governo e sua base insistia publicamente que o deputado respondesse por seus atos; seus aliados, que antes seguiam cegamente, agora eram mais cautelosos na defesa do deputado fluminense. Nesse espaço de meses, Cunha foi acusado, em diferentes instâncias, de manter contas não declaradas na Suíça, recebimento de propina no caso supracitado da Petrobras e de empreiteiras do Porto Maravilha e uso do mandato para beneficiar a si e aliados. Ironicamente, o que mais pesou para sua perigeu não foi nenhuma dessas acusações, mas que havia mentido.
Ainda em março de 2015, quando voluntariamente foi depôr na CPI da Petrobras, Cunha negou categoricamente pergunta de Clarice Garotinho (filha de Garotinho, desafeto histórico de Cunha no RJ) sobre contas no exterior. Meses depois, foram descobertas as contas já mencionadas e diversas provas que as ligavam ao deputado. O problema, para o regimento do Parlamento em específico, não era que seu presidente as mantinha, mas, sim, que mentiu aos seus pares. E isso levou o deputado ao Conselho de Ética, no que viria a se transformar no mais longo processo da casa, com quase um ano de duração.
Mais e mais era certo que Cunha estaria de alguma forma envolvido na Lava-Jato e, informalmente, o deputado se articulava com o Executivo para evitar que isso viesse a acontecer. E o fazia mediante não só o claro poder que tinha como líder da Casa, mas especificamente sobre a possibilidade de acolher algum dos pedidos de impeachment. Durante muitas sessões não havia sequer maioria para aprovar o pedido de investigação de Cunha no Conselho de Ética – e o PT era daqueles que iam contra esta corrente. Até que deixou de sê-lo. E no dia seguinte dessa virada, Cunha retaliava: admitia, pela primeira vez, um pedido de processo de impeachment contra a presidente Dilma.
Não entro aqui no restante da história pelo tamanho desta crônica e pelas muitas, muitas especificidades que nos levaram ao atual momento político. Tivemos vice-presidente decorativo, que virou presidente efetivo. Tivemos presidente que pedalava em sua bicicleta impedida de ser presidente por pedalar no governo (e não, não assumia o Aécio). Tivemos um presidente do Legislativo acusado de todos os crimes e que caía porque não convencera ninguém de que o dinheiro do trust não era dele.
Tivemos #NãoVaiTerGolpe e #VaiTerImpeachment. Panelaços e manifestações gigantescas – contra e a favor dos lados. Tivemos um ex-Senador que virou delator. Tivemos patos de borracha gigantes invadindo a Av. Paulista em uma ação que, sem dúvida, traumatizará os historiadores nacionais. Tivemos vazamentos, no mínimo, suspeitos de uma conversa entre dois mandatários do poder Executivo publicada em rede nacional e tantas, mas tantas outras manchetes que, sem dúvida, esquecerei da maioria nessas palavras.

“E em 2016, mais gente foi pra rua protestar contra o governo e… sinceramente, turma, eu não faço ideia do que significa este pato amarelo gigante.”
Mas concluo com dois pontos chaves, que espero ter deixado explícito ao longo dos parágrafos. O primeiro, sobre as complexas relações da política; sobre como erros de cálculo político, de relacionamento ou mesmo de soberba podem levar à derrocada de projetos de poder – e não faço aqui juízo de valor sobre estes projetos.
Entretanto, o segundo e mais importante ponto é: avancemos, por favor, além dos Messias, dos salvadores e da análise rasteira dos fatos. Não fomos e não #SomosTodosCunha, nem ele simboliza, sozinho, todo o mal do mundo. A corrupção e a crise não vão acabar por conta do processo de impeachment e nem o satanismo será, agora, instaurado. Defender um ideal político, uma causa, não pode nos fazer cegos às MUITAS críticas que todos os ideais políticos e causas têm. Fechar os olhos para a realidade ou apenas negá-la com veemência simplesmente não a transforma. Só nos torna mais estúpidos.
Estúpidos o bastante para que o ápice da vida política recente do Brasil seja protagonizado por um deputado com um quê megalômano e o segundo processo de impedimento ao Executivo em apenas 25 anos.