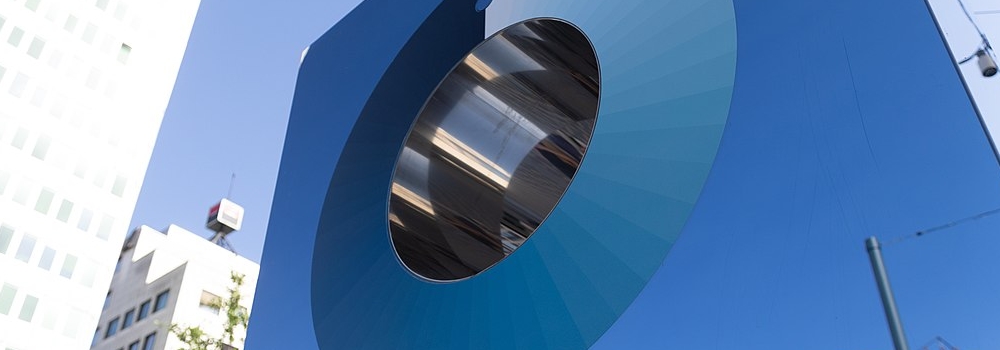Essa resenha é uma parceria do Portal Deviante com a Cia da Letras, que disponibiliza livros do seu catálogo para os nossos redatores escreverem as resenhas. Livro de hoje: “Mulheres na Luta” de Marta Breen e Jenny Jordahl
Mulheres na Luta é um livro de história, mas também de cultura, uma graphic novel e uma obra juvenil. O livro se propõe a contar a história da luta das mulheres por seus direitos, desde as “pré-sufragistas” que se engajaram na luta abolicionista nos EUA até as líderes políticas do século XXI – passando por diversos nomes que a maioria de nós nunca ouviu falar. O adendo da versão brasileira, ao final do livro, traz uma frase que resume bem ao que essa obra se propõe: “O livro Mulheres na luta é justamente um esforço de produzir memória”, de vangloriar o nome a história de mulheres que lutaram (e muitas morreram) para que todas nós possamos usufruir das liberdades e direito que nos são garantidos hoje. Mas a luta foi (e continua sendo) árdua.

A história do livro começa a ser contada no século XVIII, com a participação das mulheres no movimento abolicionista nos EUA e mostrando que, mesmo na luta por igualdade racial, há discriminação de gênero – como no caso de uma delegação americana em visita a uma conferência na Inglaterra, cujas participantes mulheres foram impedidas de participar e assistir aos debates. Neste ambiente nascem figuras como Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott e Harriet Tubman – esta última uma escrava que escapou de uma fazenda de algodão e ajudava outros escravos a fazerem o mesmo.
O livro faz questão de apontar ironias históricas da discriminação de gênero ao contar a história de mulheres como Harriet Beecher Stowe, autora de uma livro que expunha os horrores da escravidão nos EUA e levou uma parte da opinião pública a apoiar os abolicionistas. O livro de Stowe foi uma faísca que ajudou a precipitar a Guerra de Secessão americana, ao final da qual os homens negros ganharam sua liberdade e o direito a voto – mas as mulheres não.
O século XIX traz para a luta feminina três bandeiras principais: o direito à educação, o direito ao voto e o direito de decidir sobre o próprio corpo. Já aqui podemos perceber que, apesar de ser uma obra histórica, muitos desses temas ainda são muito atuais – como o direito ao aborto – reforçando que apesar de todos os avanços, ainda há um longo caminho a percorrermos.
Nem mesmo o Iluminismo e a redução da influência religiosa foram capazes de abrir as portas para liberdades femininas, muito pelo contrário. A maioria de nós já ouviu falar, estudou e debateu as teses de grandes filósofos como Rousseau, Kant e Hegel, mas pouquíssimos sabemos que eles defendiam teses incrivelmente misóginas. Para Rousseau, meninos e meninas deveriam ser educados de formas diferentes para alcançarem seus potenciais. Enquanto homens eram fortes e decididos, as mulheres deveriam se preparar para seu principal papel na sociedade: apoiar e servir aos homens de suas vidas. Vale lembrar que ele é considerado o grande pensador da Revolução Francesa e das liberdades individuais, mas em seus textos esses direitos só cabiam aos homens.
Mas a história também produziu pensadoras iluministas mulheres, como Olympe de Gouges, que não concordou com o tom machista da Declaração de Direitos dos Homens e Cidadãos e escreveu um documento alternativo que incluía direitos femininos. Ela foi a público defender seus ideias e – aqui mais uma ironia histórica – foi decapitada pelos líderes da Revolução Francesa.
O final do século XIX traz talvez o movimento feminista mais famoso e bem documentado pelos livros de história: as sufragistas. Algumas delas se cansaram de não ser ouvidas e tomaram ações drásticas ao promover incêndios e explosões na Inglaterra. Neste mesmo momento, o movimento ganha contornos internacionais com a proliferação de congressos e a maior troca de informações e experiências dentre os grupos de cada país – majoritariamente na Europa. Mas a Primeira Guerra Mundial interrompe as lutas femininas que são suplantadas pelos ideias nacionais nas trincheiras: as sufragistas que estavam presas foram libertadas para ajudar no esforço de guerra, se juntando a tantas outras que ocuparam os postos de trabalho deixados pelos alistados e que foram ao front como enfermeiras e paramédicas.
De certa forma a Primeira Guerra ajudou a avançar os ideais feministas ao provar a capacidade das mulheres de substituir os homens no momento de maior necessidade. Na Inglaterra mulheres acima de 30 anos ganharam o direito a voto e puderam trabalhar fora de casa (os homens podiam votar após os 21 anos, mas mulheres dessa idade eram “muito volúveis”). Em outros países, a demora foi mais longa.
Uma das lutas femininas que mais levou tempo para dar resultado foi o direito sobre o próprio corpo. Uma dos expoentes foi Margaret Sanger, uma enfermeira americana abismada com as condições de saúde que matavam milhares de mulheres no momento do parto ou de abortos ilegais. Para tentar amenizar essa situação, Sanger começou a publicar seu próprio panfleto com informações sobre saúde e educação sexuais – maravilhosamente intitulado “A mulher rebelde”. Mas seus textos eram explícitos demais para época e ela foi acusada de distribuição de material obsceno. Para evitar a prisão, ela fugiu para a Europa, onde teve contato com um dos primeiros métodos contraceptivos: o diafragma. Ela enviou ilegalmente este material para sua terra natal e abriu a primeira clínica de planejamento familiar – que durou apenas 10 dias – antes ser presa. Mas sua história vai ter um final feliz para as mulheres de todo o mundo: depois de um mês na prisão, as irmãs Sanger foram soltas, a justiça americana reconheceu o direito a informações e tratamentos contraceptivos e Sanger teve a ideia de contratar Gregory Pincus para desenvolver a primeira pílula anticoncepcional que foi aprovada para uso nos EUA em 9 de maio de 1960. (Em nome de todas as mulheres, obrigada, Margaret Sanger).
Ela ainda não sabia, mas abria as portas para a revolução sexual dos anos 1960 – sexo começa a ser sinônimo de prazer também para as mulheres, deixando de ser só um meio de reprodução. Daí, a luta pelo aborto começa a ganhar força, com um expoente inesperado: Norma McCorvey enfrentava a terceira gravidez aos 21 anos e buscou um advogado para dar entrada nos trâmites para dar o filho à adoção (como já havia feito com os outros). O advogado tinha ouvido falar de duas advogadas que já lutavam pelo direito ao aborto e buscavam um exemplo para levar o caso até a Suprema Corte. Apesar dos muitos recursos perpetrados pelos estado, foi confirmado pelos juízes de última instância que o direito ao aborto é constitucional (pelo menos nos Estados Unidos). Mas se engana quem acha que com isso a luta acabou: os anos 1970 viram diversas clínicas de aborto serem incendiadas.
O livro se dedica também a falar do direito ao amor livre e a luta pelos direitos homossexuais. Aprendi que a palavra “lesbianismo” vem da ilha grega de Lesbos, inspirada na história de Safo, que escrevia intensos poemas para suas alunas quando estas deixavam a ilha. E as autoras fazem questão de falar da luta feminina não-ocidental, contando a história de mulheres como a mártir iraniana Táhirih – que lutou por direitos iguais, mas foi enforcada com seu próprio véu – e Malala, que ainda luta pelo direito das meninas estudarem, mesmo depois de sofrer um atentado à vida e ganhar o Nobel da Paz (a mais jovem agraciada com o prêmio).
Certamente há muitos avanços nos direitos conquistados pelas mulheres, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido. Mesmo com a entrada da mulher no mercado de trabalho e a garantia de direitos, ainda há muita discriminação, assédio e diferença de tratamento. O livro também se dedica a contar a história das socialistas que trouxeram a luta até as classes mais baixas (já que anteriormente sufragistas e feministas eram majoritariamente de classes altas), que ajudaram a criar o dia internacional da mulher, e que entrelaçam feminismo e pacifismo – mesmo que para isso tenham tido que sacrificar suas vidas, como Rosa Luxemburgo.
O livro fala de tantas mulheres importantíssimas que é virtualmente impossível dar a cada uma delas o merecido destaque nesta resenha. A verdade é que a história “oficial” não foi (e continua não sendo) generosa com as mulheres. Há tantos nomes apagados, esquecidos, às margens dos homens, mas que lutaram por direitos, liberdades e garantias fundamentais não só das mulheres mas de todas as pessoas. Isso é especialmente verdadeiro no Brasil, onde nomes como Esperança Gracia, Rosa Egipcíaca, Maria Firmina dos Reis ficaram virtualmente esquecidos. Ainda lutamos por espaço, mas já temos mulheres líderes políticas, sociais e religiosas. Houve avanços, mas a estrada ainda é longa. Mesmo em países com leis que garantam a igualdade de gênero, ainda há discriminação, opressão e violência, e as autores descrevem bem o que ainda falta: “muita mudança de ideias e valores a ser conquistada.”
Uma frase na conclusão desta obra resume tudo que a luta das mulheres buscou em todos esses séculos: “O objetivo do feminismo é que seu gênero não restrinja sua liberdade”. Feminismo não é queimar sutiãs e esfolar homens, feminismo é a luta para que cada um de nós tenha direito de buscar e alcançar nosso potencial como ser humano – e não como homem, mulher, trans, cis, hétero, homo…
O trabalho de Marta Breen e Jenny Jordahl é um novo clássico não só da literatura feminista, mas da história em geral. Eu recomendo a obra a todos, especialmente a quem tem filhos – a linguagem é de fácil acesso e, ao abrir o livro, você estará abrindo uma porta para a história e para que as novas gerações descubram essas mulheres incríveis, suas lutas e que possam começar a pensar em quais lutas eles mesmos vão se engajar no futuro.