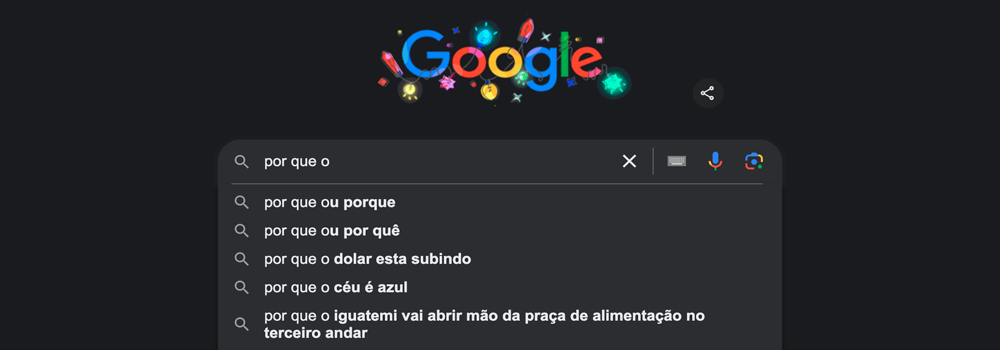Em agosto, mais precisamente no dia 19, comemorou-se o dia do Historiador no Brasil. Mas nem sempre foi assim. Quando eu entrei na faculdade, o oitavo mês do ano era tão somente o mês do cachorro louco e o início oficial da temporada de “pipas” para seus aficionados empinadores.
Em 2009, isso mudou. A data escolhida em homenagem ao nascimento de Joaquim Nabuco foi inserida no calendário nacional de festividades, atendendo a um conjunto de ações que visavam à regulamentação da profissão de historiador em nosso país. Curiosamente, apesar de agora possuirmos um dia para celebrar nosso ofício, sua regularização (ainda) não foi aprovada.
De qualquer maneira, a existência de tal data é uma boa oportunidade para trazermos à memória os desafios próprios de nossa atividade e saudarmos nossas peculiaridades, mas, também, realizar uma reflexão em torno do papel que o historiador deverá ocupar em uma sociedade impactada pelas transformações provocadas pelas tecnologias da informação.
Digo isso, pois, conforme entendo, a democratização do acesso aos suportes tecnológicos provocou profundas modificações na maneira como os seres humanos arquivam e gerenciam suas memórias. Assim como a invenção da escrita possibilitou a transferências dos registros da vida de uma comunidade para o papel, produzindo alteração na função que o ancião possuía nas sociedades orais (LEVY, 1999, p. 15), o advento de tais tecnologias pode provocar uma ressignificação no ofício do historiador enquanto aquele sujeito responsável por organizar e sistematizar a memória de uma sociedade.

Na realidade, os efeitos dessa transformação já começam a ser sentidos. Recentemente, o número de pessoas e grupos sem formação específica em história e que passaram a desempenhar o papel de articuladores da memória pública a despeito dos historiadores ganhou cada vez mais relevância. Brasil Paralelo e seus documentários sobre História do Brasil e Felipe Castanhari com seu canal Nostalgia são exemplos disso. Tais produções são sintomas de que a História sofreu um duro golpe em seu status de “detentora arrogante do monopólio da memória coletiva” (SEIXAS, 2005, p. 61)
Curiosamente, diante desse cenário, do alto desta “arrogância”, os historiadores mantiveram-se apegados ao discurso da autoridade para deslegitimar tais produções, sustentando uma postura que somente faz sentido dentro do ambiente acadêmico. O hábito faz o monge e, nesse caso, os cursos de história, os programas de pós-graduação e os instrumentos de avaliação desta carreira ainda estão estabelecidos por marcos analógicos. À contramão do futuro, enquanto boa parte do público consumidor de história ou dos estudantes indica a preferência por mecanismos digitais como ferramentas de aprendizado (canais de Youtube e podcasts, entre outros), nossas universidades seguem valorizando o livro impresso como produto principal de reconhecimento acadêmico.

Assim, o vazio deixado pelos historiadores nesse campo, somado ao profundo descrédito que assola as instituições de produção de conhecimento, abriu espaço para que outros sujeitos fizessem junto às plataformas digitais aquilo que, na sociedade contemporânea, era monopólio do historiador. Conforme observa Ricardo Santhiago (2016, p. 24), “com o aguçamento das demandas sociais por história e memória, a disseminação de recursos tecnológicos e, por fim, a popularização da internet, as formas adquiridas pelo chamado ‘espírito público da história’ se multiplicaram”.
A boa notícia desse quadro aparentemente catastrófico é que o interesse pela história ainda é alto, isso porquê, como afirmou o historiador Marc Bloch há quase cem anos, “mesmo que a história fosse julgada incapaz de outros serviços, restaria dizer, a seu favor, que ela entretém” (BLOCH, 2002, p. 43). Por outro lado, também acho que o universo analógico da produção historiográfica continuará tendo importância, sejam os livros ou os monumentos. Porém, no que tange à organização da memória no mundo digital, é preciso assumir que nós historiadores estamos em desvantagem.
Por isso, caso queiramos participar desse admirável mundo novo que se levanta independente de nossa vontade, nós historiadores devemos ser capazes de inventar novas maneiras de realizar em outras plataformas a “operação historiográfica” da qual dizia De Certeau (1982). Sem abrir mão de nossos pressupostos e de nossas bases metodológicas, precisamos decifrar a linguagem que nos aproxime de um tipo de conteúdo palatável a esses novos ambientes.
Além disso, é preciso que compreendamos que no universo digital, por conta de seu caráter amplo e difuso, não seremos nós quem pautaremos o interesse público. Ao contrário, nossa colaboração está justamente na mediação entre a curiosidade da “audiência” e os cânones de nossa área. Deste ponto de vista e ainda em caráter provisório, arrisco a dizer que, nessa nova etapa estabelecida pela relação entre sujeitos e comunidades com suas memórias, a História ou será pública ou dificilmente será bem-vinda. Quanto ao espírito público da disciplina, apoiando-me em Miriam Hermeto, faço referência àquele tipo de “história na qual a ideia de ‘autoridade compartilhada’ é fundamental, reconhecendo a importância do papel do público em sua construção” (HERMETO, 2018, p. 153).
Frente à crise de autoridade que especialistas e professores enfrentam, a noção de “autoridade compartilhada” muito me agrada. Talvez eu possa soar otimista, mas vejo no desmoronamento dos pilares da hierarquia que submetia a memória coletiva ao jugo da História, um caminho para que historiadores encontrem novos campos de atuação e, por fim, sintam que a sua profissão possui um sentido de “utilidade” para um mundo 4.0. Se estou correto, somente o tempo dirá. Até lá, ao historiador do futuro apenas uma coisa me resta a dizer: que Clio nos proteja e Hasta la vista, baby!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS