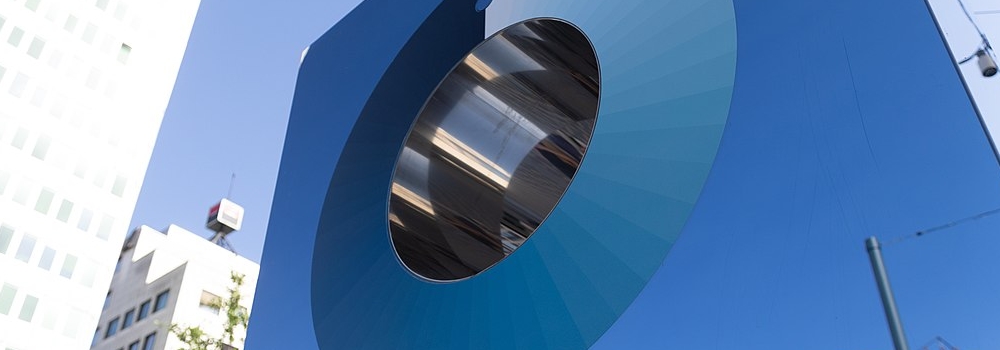Blade Runner: O Caçador de Androides (1982) não teve uma vida fácil. O filme dirigido por Ridley Scott (Alien: O Oitavo Passageiro, Perdido em Marte, Prometheus) sofreu com um trailer que fez todo mundo acreditar que ele era um filme de ação, e para decepção de muitos ele se revelou uma aventura noir com um ritmo lento e cadenciado.
A obra inspirada no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick ainda passou por várias edições até chegar na versão considerada definitiva, o que só aumentou o misticismo em torno do filme. Hoje ele é um clássico cult, frequentemente considerado a melhor obra cinematográfica de ficção científica de todos os tempos.
Só por isso calcula-se o tamanho da encrenca que é produzir uma continuação. Ainda assim, 35 anos depois Blade Runner 2049 está em cartaz e acredite, ele não deve nada tanto ao filme original quanto ao texto de Dick.
Acompanhe nossa resenha, sem spoilers.
“Mais humanos que humanos”, ainda que holográficos
Hampton Fancher, um dos dois roteiristas do original (o outro era David Peoples) está de volta, desta vez aliado a Michael Green (que entre outras coisas assina o texto da versão para a TV de Deuses Americanos) para contar uma nova história inserida na Los Angeles suja e opressiva do futuro. Adicionando um contexto, após os acontecimentos de Blade Runner o detetive Rick Deckard (Harrison Ford) foge com Rachael (Sean Young), rumo a um paradeiro ignorado para pretensamente viverem felizes pelo tempo de vida que resta à replicante.
Nos 30 anos que separam as duas tramas muita coisa aconteceu: uma rebelião dos replicantes que causou a falência da Tyrell Corporation, a empresa que originalmente os manufaturava. Num cenário em que Eldon Tyrell (Joe Turkel) já estava morto, cortesia de Roy Batty (Hutger Hauer) foi fácil para uma nova empresa, a Wallace Corporation (que salvou o mundo da fome com uma técnica de processamento de alimentos, quando o ecossistema foi para a cucuia de vez) comprar os assets da Tyrell e por as mãos na tecnologia de criação de replicantes.
Há todo um pano de fundo que convém conhecer antes de assistir o filme: o diretor Denis Villeneuve encomendou três curtas, dois dirigidos por Luke Scott (Morgan) e outro por Shinichirō Watanabe (Cowboy Bebop) que detalham acontecimentos entre ambas produções, e é altamente recomendável que sejam assistidos (aqui, aqui e aqui).
No filme somos apresentados a um novo Blade Runner, o replicante K (Ryan Gosling, de Drive e La La Land). Ele é um Deckard mais triste, que não é muito dado a convívio social por razões óbvias e prefere a companhia de sua “esposa” Joi (Ana de Armas, de No Limite), uma inteligência artificial que se manifesta na forma de um holograma. Curiosamente, embora imaterial ela é uma das “pessoas” mais humanas de toda a película, o que foi obviamente proposital.
A função do K é de “aposentar” replicantes renegados, e em uma de suas missões ele tropeça em um segredo que pode simplesmente virar o mundo de pernas para o ar, de uma forma completamente irreversível e com resultados que podem ser catastróficos para todos os envolvidos. A chave para desvendar o enigma é Deckard, que sumiu desapareceu escafedeu-se.
Paralelo a isso há Niander Wallace (Jared Leto, de Esquadrão Suicida e Clube de Compras Dallas), o presidente da Wallace Corporation que deseja esse segredo para si, como forma de solucionar o último quebra-cabeça incompleto de Tyrell e que é algo que pode mudar os rumos da História. Ele é auxiliado por sua guarda-costas replicante Luv (Sylvia Hoeks), que muito se assemelha a uma Rachael sem alma que sabe dar porrada.
E é isso, dizer mais estragaria a experiência. Vejam vocês mesmos.
Lágrimas na chuva, again
Tecnicamente Blade Runner 2049 é soberbo. Villeneuve, cuja competência já foi comprovada em obras como Os Suspeitos e A Chegada absorveu perfeitamente a alma do filme de 1982 e embora tenha criado uma obra com identidade própria, ele brinca o tempo todo com elementos de Blade Runner. O mundo evoluiu mas não grande coisa, os carros voadores possuem o mesmo design de 2019, os grandes letreiros luminosos agora compartilham o espaço com hologramas gigantes e ninguém possui telefones celulares, a comunicação ainda é a mesma de 30 anos atrás com seus terminais e monitores de fósforo verde, alguns ocasionalmente coloridos.
A fotografia é muito bela, os tons nos momentos certos passam a sensação de solidão e desolação mesmo numa megalópole abarrotada como Los Angeles, no gigantesco lixão que se tornou a cidade de San Diego (uma deliciosa cutucada na rivalidade entre as duas cidades na vida real) ou no clima desértico da região mais isolada. Os objetos, cenários, tudo foi composto de forma a construir novamente o ambiente multicultural apresentado em 1982, uma cidade com culturas mescladas e gente que se entende mesmo falando outras línguas (a língua comum, o “cityspeak” que Gaff falava no original — e ele está no filme, interpretado novamente por Edward James Olmos, o William Adama de Battlestar Galactica — também é novamente apresentada).
Os efeitos sonoros são muito bons, com efeitos que remetem ao original e a trilha sonora merece destaque, com criações do mago Hans Zimmer (Inception, O Rei Leão, Dunkirk) e do competente Benjamin Wallfisch (It: A Coisa, Estrelas Além do Tempo), além da participação de Jóhann Jóhannsson (Sicario, A Chegada, Mãe!) que fora posteriormente desligado do projeto por motivos até agora não esclarecidos.
Os três trabalharam em cima dos temas originais criados pela sumidade Vangelis (Carruagens de Fogo, 1492: A Conquista do Paraíso, Cosmos: A Personal Voyage, a série apresentada por Carl Sagan) para Blade Runner e o resultado é um deleite, você reconhece cada acorde, cada nota mas ao mesmo tempo percebe que é algo completamente novo, sem contar as composições originais.
No entanto ele brilha nas discussões filosóficas novamente levantadas: o que é vida? Quem tem mais direito a viver, os humanos que se tornaram lenientes e convencidos ou os replicantes, que foram marginalizados e caçados mas que são geneticamente superiores? Uma IA sem corpo tem direito a existir tanto quanto todos os outros ou é só um produto?
A existência de Joi traz à tona o mesmo tipo de relação que os humanos tinham/têm com os replicantes, visto que estes também desprezam as IAs e as vêem como “ferramentas”, seres de mentira. No entanto, o que define existência, ter carne e sangue, suas memórias, nascer e não ser fabricado ou fabricado ou seus sentimentos, mesmo que eles não passem de uns e zeros?
A sensação final que Blade Runner 2049 transmite é: ele não é um filme para esquecer o original e sim uma expansão. Ele veio para somar, para ampliar os horizontes que Ridley Scott definiu 35 anos atrás e isso Denis Villeneuve consegue fazer com perfeição. O resultado é uma obra coesa, enxuta e que só soma ao agora rico universo de Blade Runner.
Conclusão
Blade Runner 2049 não é uma simples continuação linear, é uma expansão do mundo complexo e caótico de Philip K. Dick, que Ridley Scott trouxe para a tela grande de forma genial. A obra de Denis Villeneuve não veio para responder nenhuma pergunta do original, ao invés disso acrescenta mais elementos erráticos e lança novos questionamentos sobre humanidade, inteligência, livre arbítrio e consciência. Num mundo onde um holograma intangível se mostra mais humano que os humanos e até mesmo que os supostamente perfeitos replicantes, as linhas entre “vida” e “não-vida” se mostram bem borradas.
O novo filme se justifica como um grande DLC, uma adição massiva de conteúdo e informação a Blade Runner que mostra a nós que ainda há muito o que ser descoberto e revelado, mas a espinha dorsal ainda está lá: é um filme noir de corpo e alma, uma história de detetive que questiona: o que é “vida” afinal?
Cotação Deviante: cinco de cinco ingressos, com louvor.
O Deviante compareceu à cabine de imprensa de Blade Runner 2049 a convite da Sony.