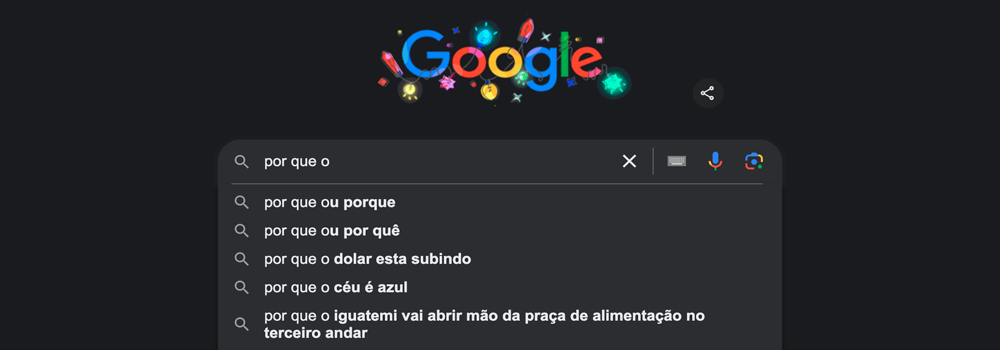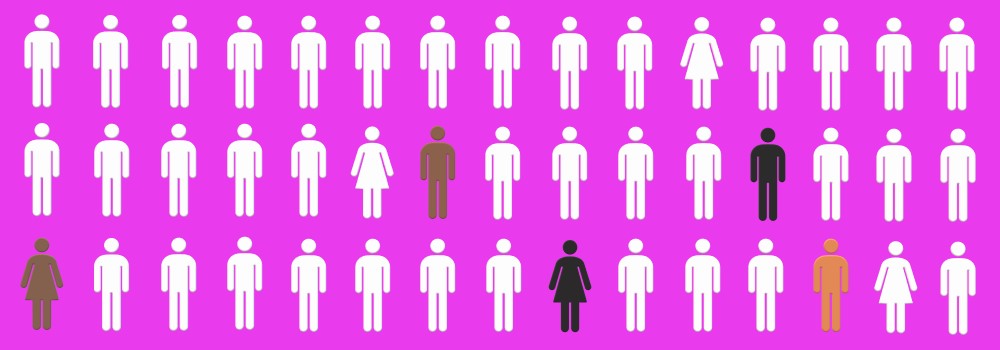
Parte 1: Perguntas que não querem calar.
“Você não tem lugar de fala, é homem.”
“Você tá roubando meu lugar de fala de mulher.”
“Só pode falar da ditadura quem viveu na época, taokey?”
É verdade esse bilhete?
Alguns pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento vem discutindo os questionamentos trazidos pela ideia de lugar de fala há uns anos em salas de aula e redes sociais.
Nesse meio, tem aqueles críticos que nunca gostaram muito da ideia e usam frases como as três acima como exemplo para justificar sua opinião, diagnosticando que tudo se trata de fragmentação identitária, pensamento pós-moderno, censura à liberdade de expressão, desqualificação do interlocutor (falácia Ad Hominem), ou qualquer outra coisa que considerem desprezível.
Realmente, é legítimo indagar como seria possível a ciência ou a filosofia se só quem falasse sobre algo fosse quem vivenciou aquilo – imagina se historiadores não pudessem falar sobre períodos históricos que não viveram!
Mas e se déssemos dez passos para trás para questionar se afirmações como “você não tem lugar de fala” não estariam baseadas em um profundo mal entendido? Estamos todos falando sobre a mesma coisa?
Afinal, essa expressão foi reinterpretada e transformada pelo senso comum. Difundida pelos Sete Reinos de Westeros por youtubers, programas de televisão, grupos de Whatsapp e influenciadores digitais em geral, parece que todo mundo tem algo a dizer sobre.
Isso não seria necessariamente ruim, se não tivesse sido apropriada por quem que nunca mostrou se preocupar com a promoção de equidade social, ou seja, de oportunidades iguais para todos os grupos sociais, embora a expressão em si tenha surgido nesse sentido. Fora que muitos parecem usá-la em trocas de acusações que não costumam chegar a lugar nenhum. A não ser ganho de likes e seguidores.
Mas então, o que diabos é lugar de fala e como surgiu?
Muitas dessas preocupações que se repetem no debate público foram respondidas de forma bem direta pela filósofa e feminista negra Djamila Ribeiro em seu livro “O que é lugar de fala?” de 2017. Só faltou ela desenhar que sim, todos temos lugar de fala (TODOS, até aquele seu tio do pavê).
Segundo Ribeiro, a expressão tem uma origem incerta. Porém, sabe-se que ganhou força desde a segunda metade do século XX com o questionamento de movimentos sociais feministas, antirracistas e críticos ao colonialismo acerca da autoridade discursiva (quem pode falar?) e de sua pauta pela marcação do lugar social a partir do qual cada um fala.
Isso não quer dizer que só oprimidos podem falar sobre oprimidos, pois a filósofa enfatiza que quem se beneficia de uma opressão não pode ser dispensado da responsabilidade de combatê-la, seja falando, escrevendo, lendo ou escutando. Inclusive, estudando temas pouco populares como a branquitude, a masculinidade e as relações de poder na sociedade.
Ao invés de calar alguém, perguntar sobre lugares de fala é questionar por que tanta gente foi calada até hoje. Por que a autoridade para falar sobre tudo e todos foi sistematicamente a de quem se beneficiou das opressões? Por que costumam falar como se estivessem num não-lugar, como se fossem sujeitos universais?
A ilusão da neutralidade e da visão universal científica
É como a metáfora do cientista no topo de uma montanha observando de forma neutra os meros mortais abaixo. Homens brancos da elite (sobretudo europeia e norte-americana) que historicamente predominaram no meio científico, achavam que estavam nessa montanha aí. Apreciando, analisando e debatendo a paisagem entre si, de boas.
Acontece que foi provado por A + B que a montanha não existe. Isto é, nenhuma análise científica é feita no cume da montanha, como se o sujeito da ciência fosse um “deus único, cujo Olho produz, apropria e ordena toda a diferença”, como bem argumentou Donna Haraway no artigo “Saberes Localizados” de 1988.
Estamos todos lá embaixo, na sociedade, marcados e afetados por interseções de desigualdades e relações de poder. O homem branco também é marcado, não só por gênero e raça (no sentido social), mas por classe, sexualidade, local de moradia e por aí vai.
Mesmo assim, tem quem se agarre no cume da montanha e acuse essa visão crítica de “pós-moderna” ou identitarista. Em contraposição a acusações como essas, basta lembrar da vertente teórico-política que analisa as interseções de opressões, que está longe de se colocar para além da modernidade, do capitalismo ou de pautar o reconhecimento de identidades e vivências particulares sem relação entre si. O título de um dos livros da feminista negra socialista Angela Davis resume tudo: Mulheres, Raça e Classe (1981). As hierarquizações da modernidade permanecem e a nossa posição social se dá numa matriz de dominação.
O ofício de formular perguntas
As Humanas tão aí pra isso. Pra pensar os significados, os por quêse os comosdas ações e relações humanas no presente e no passado, as éticas que nos movem ou nos moveram no nosso estar no mundo. Éticas no sentido de conjuntos de valores. Do que acreditamos ser o bem e o mal, o justo e o injusto, as condutas exemplares e as reprováveis. Isso é construído e compartilhado socialmente, variando de acordo com os grupos sociais, em suas interseções. E o melhor de tudo: valores podem mudar no tempo.
Contudo, é bom lembrar que o ato de duvidar do que cremos saber não se restringe às Humanas. É parte da tal da “vigilância epistemológica” do “espírito científico” que deveria permear todas as ciências para não se confundirem com opiniões, como defendia o filósofo e poeta Gaston Bachelard.
Que bom que sabemos dos perigos da opinião! Senão em pleno século XXI ainda teria cientista que naturalizaria diferenças socialmente construídas. E que direta ou indiretamente buscaria provar preconceitos e justificar discriminações com a máscara de ciência.
É inevitável que nós cientistas sejamos tentados a buscar “encontrar” aquilo que, pelos nossos valores, gostaríamos ou supomos que fosse a realidade. Mas como Bachelard já alertava em “A Formação do Espírito Científico” (1938), isso é um obstáculo ao conhecimento, pois a realidade não pode ser achada: “Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído”.
Produzimos dados científicos através das perguntas que fazemos. E como a crítica à neutralidade evidenciou, essas perguntas são feitas a partir de nossos pontos de vista, marcados por diferenças construídas historicamente. Por isso é fundamental explicitá-los.
Ou sejE, a pergunta inicial desse texto, “cientistas têm lugar de fala?”, está mal formulada de propósito, porque o debate por vezes desandou para esse “ter ou não ter lugar de fala, eis a questão”. E isso foi apropriado até por correntes que defendem a desigualdade de oportunidades e o silenciamento de vozes plurais. Como na ideia de que “só pode falar sobre a ditadura militar quem viveu o período e que concorda com minha opinião favorável à ditadura” (Bachelard se revira no túmulo). Ou ainda “você homem que discorda da minha opinião, está roubando meu lugar de fala de mulher”, sendo que esta defende falas machistas e aquele denuncia o machismo (pois é, tá tendo!).
Acima dessa neblina de apropriações da expressão, o que pode surpreender a muitos ainda hoje é a relevância ética e científica da problematização acerca do lugar de fala, que poderia nos ajudar a levantar questões que não querem calar ninguém, mas sim situar e pluralizar vozes:
- Qual é a sua posição na sociedade (lugar social)?
- Como a ciência que produzimos é feita a partir de nossos lugares sociais e das relações que construímos?
- O que podemos fazer para que uma maior diversidade de conhecimentos socialmente situados ganhem espaço no meio científico e no nosso cotidiano?
Sugestões de mais perguntas são mais que bem vindas ;)
Esse texto é apenas o primeiro de uma série sobre a produção científica: quem faz, como se reproduz, como é representada?
Da onde tirei isso:
O livro “O que é lugar de fala?” de Djamila Ribeiro, da coleção Feminismos Plurais, voltou a ser vendido em 2019 pela Pólen Livros, com o título “Lugar de Fala”. É só jogar no Google e comprar. Vídeos nos quais explica o conceito:
Angela Davis, “Mulheres, Raça e Classe”, Boitempo, 2016. Tradução do original de 1981, prefaciado por Djamila Ribeiro. Uma das leituras mais reveladoras que tive como mulher branca de classe média e socialista.
Donna Haraway, “Saberes localizados: questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, n.5, 1995, p. 07-41. Originalmente publicado em Feminist studies, v. 14, n.3, 1988.
Gaston Bachelard, “A formação do espírito científico”, 1938. Tem online. Influenciou a sociologia através da leitura de Pierre Bourdieu.
Para saber mais sobre a crítica ao colonialismo, recomendo muito o Podcast do Chutando a Escada n.42, “Pós-colonialismos e Relações Internacionais”:
Renata Lacerda. Antropóloga feminista sincerona. Pesquisadora de política, movimentos sociais e conflitos socioambientais. Defensora apaixonada da universidade pública para todas e aprendiz de variadas formas de conhecimento. Ama ver, ouvir e ler histórias bem contadas e sonha em conseguir contá-las.