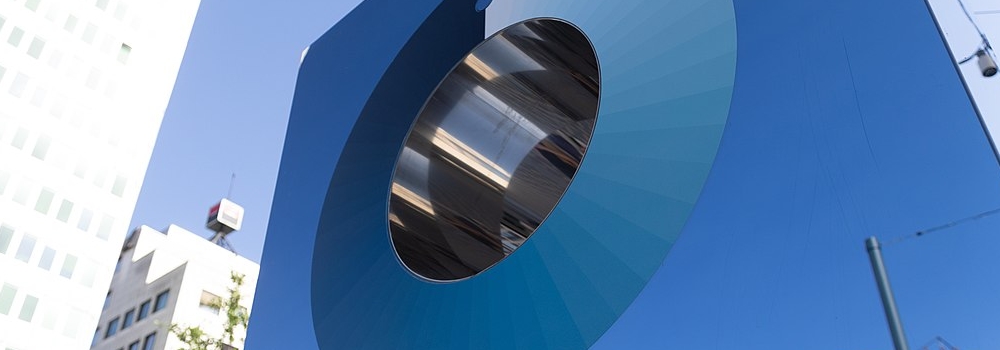O desenvolvimento da tecnologia parece se concretizar como um caminho sem volta. Nem em nossas previsões mais catastróficas, aquelas que dão medo de tão próximas, os aparatos e as mídias tecnológicas efetivamente somem de cena. Foi-se o tempo de achar que, diante de um evento mundial traumático (uma guerra nuclear, por exemplo), voltaríamos à Idade das Pedras, penando para manter uma fogueira acessa e nos lamentando da falta de energia elétrica e do telefone celular. Verdade seja dita, depois de tão diversificada, pulverizada e automatizada, será que alguém, algum dia, achou realmente que toda a tecnologia do mundo pudesse acabar assim, de uma hora pra outra?
De modo geral, a nossa concepção de futuro mudou muito e cada vez mais, ao invés de nos propormos uma sociedade sem tecnologia at all, tendemos a pensar acerca dos efeitos dessas tecnologias modernas nas interações sociais — aquelas preexistentes e as surgidas com a própria inovação — prevendo as transformações e as continuidades consequentes desses efeitos. E é neste sentido que Black Mirror se debruça sobre o futuro, elaborando cenários ficcionais cujo foco recai em cima de diversos tipos de relações sociais mediadas por uma qualidade de tecnologia ainda “irreal”, mas de certa forma “possível”. A série fala de um amanhã que não chegou, mas parece bater à porta, levantando questões que tanto nos instigam, nos fazem refletir e, muitas vezes, nos angustiam.
Vários são os aspectos da vida social que podem ser debatidos a partir do que sugere o futuro representado em Black Mirror. Entretanto, o objetivo deste texto é, em especial, pensar como as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) podem mediar a intimidade, ou seja, como tecnologias sensíveis podem interferir no modo como nos relacionamos afetivamente e sexualmente hoje e, quem sabe, amanhã também.
Emoções e relacionamentos têm funções sociais
Para início de conversa precisamos, você e eu, estabelecer algumas premissas importantes para o desenrolar das ideias a seguir. Primeiro, e mais significativo, é preciso ter em mente que as nossas emoções e os nossos sentimentos são fenômenos socialmente interpretados (para não dizer, socialmente construídos…). Calma, calma, calma! Não precisa entrar em pânico! O que estou querendo dizer é que os sentimentos e as emoções são elementos que também fazem parte das relações sociais, e, por isso, também estão incluídos no jogo de regras da sociedade. Comumente interpretadas como objeto da psicologia ou da biologia, somente a partir das últimas décadas do século XX, a categoria emoção foi assumida de fato como igualmente pertencente a ordem do social e da cultura, sendo considerada, então, igualmente objeto da Antropologia e da Sociologia.
Diferente das abordagens psicobiológicas mais tradicionais que tendem a elaborar uma premissa universalizante das emoções — “os sentimentos são desencadeados a partir de mecanismos biológicos comum a todos os seres humanos, logo, é possível traçar caminhos mais ou menos parecidos para interpretar os afetos” — a análise social pressupõe que o desenvolvimento dos sentimentos e dos desejos é definido por contextos históricos e socioculturais específicos. Em outras palavras, os cientistas sociais estão querendo dizer que nós aprendemos a sentir o que sentimos de acordo com determinadas situações da vida, pois interpretamos aquilo que sentimos de acordo com certos valores adquiridos por meio do convívio em comunidade. Veja bem, não estou afirmando aqui que não há participação do biológico ou da psique nos nossos estados emocionais. Pelo contrário. É no corpo orgânico onde as sinapses são feitas, os hormônios liberados e as sensações captadas e expressas. A intenção aqui não é substituir um regime de pensamento por outro, mas sim de alargar a nossa noção do que sejam as emoções e os prazeres e agregar aos seus elementos psicobiológicos particulares o fator interação social, com características e normas próprias.
O segundo ponto, talvez revestido de consenso um pouco maior, é entender que a forma como nos relacionamos afetivamente e sexualmente também não é universal e obedece a algumas normas específicas elaboradas desde um contexto social particular, em certo momento histórico. Eu sei que pode parecer chato ou relativista demais apontar para tantas especificidades no modo como nos comportamos em sociedade. Mas acredite em mim, tudo isso faz parte de um esforço contínuo de desnaturalizar conceitos, e é isso que nós, cientistas sociais, fazemos de melhor: promover o estranhamento do cotidiano, pondo em suspensão todas aquelas relações que nos pareciam tão familiar e revelando o sistema de valores tensos e arbitrários por trás da aparente estabilidade natural.
Talvez lidar com esta dicotomia Natureza X Cultura seja uma das principais características a fundar o pensamento antropológico acerca dos relacionamentos afetivos e sexuais humanos. Nos deparamos com a tarefa de questionar alguns determinismos biológicos que insistem em ser colocados como a explicação primordial dos papéis sexuais que mulheres e homens desempenham em comunidade, de suas emoções e de suas práticas românticas ou eróticas. Segundo a antropóloga Carol Vance, existem duas abordagens possíveis para interpretar a forma como nos relacionamos: a essencialista, atribuindo as ações dos indivíduos aos desígnios da natureza fisiológica dos seus corpos, e a construtivista, partindo do princípio de que quem produz os significados das ações e da moral dos indivíduos é a cultura na qual estão inseridos. E por cultura entendemos um conjunto diverso de discursos: religião, ciência, arte, filosofia…
A argumentação que sigo aqui, já devem ter percebido, se enquadra na segunda abordagem de Vance. Em resumo, os sentimentos e as trajetórias afetiva e sexual de uma pessoa não se vinculam somente à biologia ou à genitalização dos corpos. Abrange um conjunto de comportamentos — convencionados socialmente através de roteiros específicos — que orientam a constituição de um amor ideal, um desejo esperado, um prazer permitido e uma excitação tolerada. Percebemos os limites dessas convenções quando amamos, desejamos, sentimos prazer ou nos excitamos de maneira extra-ordinária. O conflito com os padrões aceitáveis revela o quanto as expectativas a respeito de como se relacionar são, com efeito, elaboradas em sociedade e, muitas vezes, alheias a nossas próprias vontades.
Um bom exemplo da realização cultural dos afetos é o fenômeno casamento e suas transformações ao longo dos anos. Para Claude Lévi-Strauss, um dos mais importantes antropólogos do século XX e fundador da Escola Estruturalista Francesa, a origem das regras do casamento remete a um sistema de trocas, mesmo quando essas regras parecem ser muito específicas ou mesmo aleatórias. Casamento significa a aliança entre grupos distintos a fim de garantir a perpetuação combinada desses indivíduos. A exogamia, isto é, a prática de união conjugal de pessoas não aparentadas, superou, em um primeiro momento, os comportamentos endógamos de relação, ou seja, aqueles que uniam irmãos, tios, primos próximos, sobrinhos, filhos etc., mantendo unicamente como proibição a prática do incesto. Em outras palavras, por definição, o casamento visa sobrepor aos laços naturais do parentesco os laços daí em diante artificiais, ou seja, construídos socialmente, mantendo a coesão e a articulação flexível entre os indivíduos como um todo. Dessa forma, o casamento permite e assegura a integração de unidades parciais no interior do grupo total e exige a colaboração dos grupos que se inserem posteriormente. Inclusive, este é o modelo base que inspira o conceito antropológico de reciprocidade.

Exemplo da estrutura de alianças de casamento e parentesco inspirada no modelo proposto por Lévi-Strauss. Gráfico elaborado por Antonio Roberto Guerreiro Júnior em trabalho intitulado “Aliança, chefia e regionalismo no Alto Xingu”
(GUERREIRO JÚNIOR, Antonio Roberto. Aliança, chefia e regionalismo no Alto Xingu. Journal de la Société des Américanistes, v. 97, n. 97-2, p. 99-133, 2011)
Lévi-Strauss pode observar tais propriedades enquanto estudava povos indígenas na América do Sul, entretanto, se pensarmos em contextos culturais diferentes, o casamento, tal como definiu o antropólogo, continuou a significar aliança, mesmo que não apenas para garantir a sobrevivência de pequenos grupos sociais, senão para unir nações inteiras. Afinal, se olharmos para a história no Ocidente, o pacto conjugal seguiu permitindo, durante séculos — e independente das elucubrações mais apaixonadas—, a perpetuação de impérios, a concentração de poder, de recursos e, por conseguinte, de riquezas.
Até ai nada de amor romântico, perceberam?
Foi só a partir da Revolução Francesa que começamos a juntar casamento e amor em uma única sentença e só com a Revolução Industrial estreamos o conceito de família nuclear: o resultado da união amorosa de um par heterossexual com prole saudável e produtiva. Se fizermos a conta direitinho, vamos ver que esse modelo não tem nem quatro dos pelo menos 21 séculos de civilização judaico cristã. E ainda, se repararmos bem, ele não parece nem um pouco “natural”…
Também no Ocidente, o mito do amor romântico ganhou vigor, entre outros fatores, com o advento da mídia e da chamada Indústria Cultural (1940 em diante), período de intensificação da produção cultural de massa, principalmente através do crescimento dos programas televisivos e da arte cinematográfica. O expectador transformou-se em consumidor e a propaganda capaz de vender qualquer coisa, desde objetos até emoções.

(Dica: assistam à série Mad Men! É um ótimo exemplar desta época e, melhor: as oito temporadas estão disponíveis na Netflix)
Em poucos anos, se estabeleceu como senso comum a idealização de que seria possível encontrar “a pessoa certa”, cujo destino seria passar o resto dos dias ao seu lado, felizes para sempre, como nos contos de fadas repaginados pela Disney. O mito também estabeleceu como paradigma de satisfação e de normalidade o relacionamento heterossexual duradouro, monogâmico, sexualmente ativo e com filhos, tomando como reais conceitos adaptados relativos à perpetuação da espécie, à exclusividade e à eternidade, os quais, na maioria das vezes, não se concretizam ao longo das relações. Como consequência, o sentido do casamento também se modificou, e o objetivo de forjar alianças interesseiras soou, gradativamente, impessoal e calculista demais, contrastando com o imaginário, recém estipulado, de intensidade e furor das parcerias geradas pela paixão.
Já no mundo contemporâneo, testemunhamos o deslocamento da noção de “vida sexual saudável” de parte integrante para o centro fundante das expectativas conjugais do ocidente, e, assim, foi possível observar o aumento substancial dos encontros íntimos independentes de uma aliança duradoura. Além disto, as micro revoluções na esfera dos costumes, inspiradas pelos movimentos feministas dos anos 1970 e pelo movimento LGBT dos anos 1980, alteraram, em muitos níveis, a experiência de se relacionar afetiva e sexualmente para homens e mulheres. Logo, uma convicção moderna e individualista do que é ser um casal tende, principalmente nas camadas médias e altas das sociedades, a impor comportamentos mais rotineiros e igualitários tanto dentro como fora do ambiente privado das pessoas.
Mediando intimidades
Meu ponto é pensar que a democratização das mídias e o advento das novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) — oriundas da revolução informacional ou terceira revolução industrial, a partir da invenção dos microcomputadores, da fibra ótica, da internet e de outros dispositivos eletrônicos para gerar, armazenar e transmitir informação, alcançando o auge nos anos 1990 — permitiram, entre outras coisas, facilitar ao usuário final se aventurar nesta nova busca pelo prazer e por relacionamentos pautados por valores menos autoritários e normatizadores. A proliferação de tecnologias que promovem esse tipo de encontro, como Tinder ou o Grindr, são um bom exemplo de uso dessas tecnologias como novas mediadoras da intimidade.

LovePalz é um brinquedo erótico arrebatador que usa tecnologia de detecção de movimento para imitar e reproduzir movimentos em tempo real para uma experiência de sexo virtual. O aparelho, cujo uso pode ser viabilizado através de wi-fi, tem duas partes (‘Zeus’ o brinquedo masculino e ‘Hera’ o brinquedo feminino), desenvolvidas para ajudar casais que estejam longe a se conectarem em um nível de maior intimidade face a face em uma ligação por vídeo. Este aparelho inteligente detecta suas ações e as transmite para o outro, de forma que que se reflitam fisicamente no outro aparelho
Um outro exemplo é o advento dos objetos tecnológicos específicos para casais ou usuários que se relacionam a distância. Segundo o professor de Computação e Sistemas de Informação Frank Vetere e colegas, esses objetos possuem três características particulares que os diferenciam dos outros tipos de utensílios tecnológicos e dizem sobre os desafios de formular intimidade sem a interação face a face: primeiro, o design do objeto ou da imagem é feito a partir de imagens ou materiais sugestivos, isto é, que provoquem nitidamente algum tipo de sensação; segundo, a representação espacial da ação do objeto se desdobra em uma metáfora literal, ou seja, a tecnologia reproduz uma ideia muito próxima do movimento que busca traduzir ou mediar; e terceiro, os objetos possuem uma dimensão material única, isto é, nunca são exatamente o que pretendem simbolizar. Deste jeito, esses aparatos são capazes de transmitir um tipo de informação, por meio de dispositivos criados para casais se comunicarem entre si e não para um usuário se comunicar com o resto do mundo. Além disto, são dispositivos criados para um modelo específico de casal, não um casal qualquer. Logo, espera-se que as noções de oportunidade e exclusividade sejam norteadoras dos consumidores, induzindo os casais a sentirem que só usam aquele tipo de tecnologia com pessoas especiais. E, por fim, são dispositivos criados para transmitir um determinado tipo de comunicação e não todo tipo de mensagem, portanto, eles não se sobrepõem a necessidade do casal de conversar sobre a manutenção da casa ou o comportamento das sogras. Essa necessidade de “discutir a relação” continuará existindo, porém, tais dispositivos criam um espaço alternativo reservado somente para a intimidade.
O desafio é tornar a tecnologia atraente e a serviço dos nossos desejos
Séries tipo Black Mirror ou filmes tipo Her nos instigam a pensar como a tecnologia pode modificar e ao mesmo tempo reproduzir uma parcela considerável de toda essa discussão que busquei resumir aqui. No episódio 4 da 4a temporada de Black Mirror — Hang the DJ — é muito interessante perceber como uma simples mudança de hábito promovida pelo aparato tecnológico em questão pode, de forma concomitante, rescindir nossa ideia de monogamia obrigatória e reforçar a ideia de paixão avassaladora, numa jornada tecnicamente diferente rumo ao match perfeito. Prometo não dar spoilers, mas não resisto a comentar que tal mudança tem a ver com o fato de os casais arranjados saberem, de antemão, quanto tempo durará seus relacionamentos. Pronto. O resto você vê lá no episódio.
Para concluir, argumento que a comunicação da emoção não diz respeito exatamente às respostas dadas pelo dispositivo, mas sim através das dinâmicas de uso sociais ao redor dele. Entendo que estamos vivendo diante do anseio de customizar a tecnologia, transformando computação eficiente em computação encantadora e trabalhando na conciliação dos desejos de duas (ou mais) pessoas que se relacionam entre si, de modo cada dia mais igualitário, e não apenas em um único usuário final, genérico. Enfim, com o desenvolvimento de aplicativos e dispositivos de mediação da intimidade, percebemos uma alteração importante na programação de novos aparatos tecnológicos: a substituição da noção de comunicação de massa para comunicação pessoal, sugerindo, portanto, que a inovação no uso das tecnologias de comunicação reconfigura uma tecnologia já existente, e com isso não se baseia, necessariamente, em pura especulação.
Por isso, digo com convicção: estamos mais perto de Black Mirror do que imaginamos.
Raquel Oscar. Antropóloga, problematizadora nerd e acredita que a tecnologia vai salvar a humanidade – mas não do jeito que você imagina