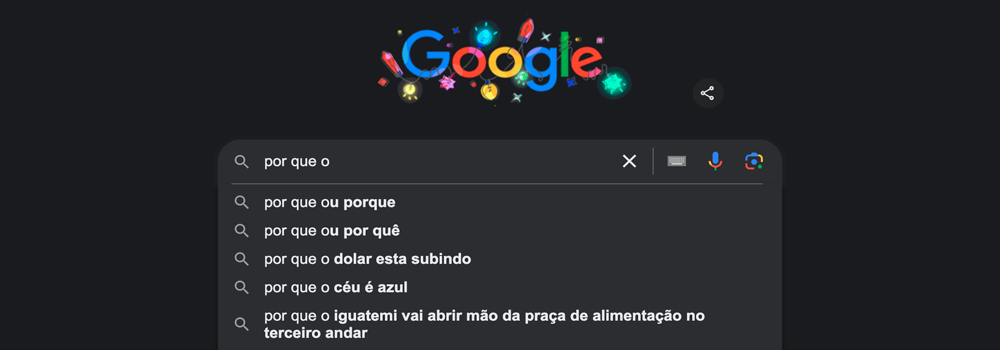Olá, caras leitoras e leitores! Neste texto vou aproveitar o calor do momento e da produção de memes sobre o Lula sendo solto para discutir alguns aspectos da recente decisão do STF sobre a prisão em segunda instância. Não vou tratar dos aspectos técnicos de processo penal, nem explicar quais são os pontos positivos e negativos dessa decisão em específico. Na verdade, só quero utilizar ela como desculpa para falar de um problema, na minha visão, muito maior, o ativismo judicial, e entender porque esse caso é mais sensível que apenas a questão da prisão. Então vamos começar com o ativismo, mas aguenta aí que lá no final eu chego na prisão em segunda instância.
Eu falei um pouco sobre o ativismo judicial no final do meu primeiro texto para o Portal, em que tratei da relação entre direito e justiça.
Pra entender o que é ativismo, temos que voltar um pouco no tempo, para 1748, quando um tal de Carlinhos (também conhecido por Montesquieu) propôs um sistema de separação dos poderes. A ideia básica é que ter os poderes do Estado concentrados em uma pessoa só pode trazer degeneração do governo, afinal, como foi colocado em Batman v. Superman (e acho que Lord Acton também falava algo assim), o poder absoluto corrompe absolutamente.
O que o sistema de separação de poderes faz é colocar um poder que cria as normas pelas quais a sociedade deve se conduzir (o legislativo), um que tem o objetivo de fazer com que essas normas sejam cumpridas (o executivo) e um que julga os conflitos ocorridos na sociedade, aplicando essas normas (o judiciário). Nessa conta, quem prevalece é o legislativo, que, além de representar a vontade do povo (sim, gente, é isso que o nosso legislativo faz… pasmem), é um órgão composto por muitas pessoas com igual força de decisão, o que serve, também, para evitar a concentração do poder em poucas pessoas.
Acontece que esse modelo de separação de poderes clássico não se importava muito com o conteúdo das leis, pois esse deveria ser controlado pela própria atuação política. Afinal de contas, o papel do legislativo é representar os interesses do povo, então é evidente que nada de ruim pode sair de lá (sim, isso é uma ironia).
Isso funcionou de forma até razoável por um tempo, se for levado em conta o interesse de quem estava no poder, mas a lei tem uma característica bem interessante, ela pode ser usada para dar um aspecto de legitimidade aos maiores absurdos (isso é um pouco retratado em “O Processo” do Kafka). Por isso que, após as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, muitas amparadas pela lei, o pessoal viu que algumas coisas tinham que mudar. É nesse contexto que surgem os direitos fundamentais e os direitos humanos da forma como conhecemos hoje (a mudança do ponto de vista internacional é abordada no Scicast #349 sobre a ONU e no Fronteiras no Tempo #29 sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Nesse momento, incia-se o que chamamos de Estado Democrático de Direito, que parte do pressuposto de que a democracia não pode recair apenas na vontade da maioria, para impedir que a maioria vote pela opressão à minoria. Pensa só: as mulheres são maioria, elas poderiam querer pleitear direitos iguais… imagina o absurdo (brincadeiras à parte, o exemplo mais evidente é o do nazismo legitimando a opressão aos judeus). Por isso, esse novo modelo traz, como uma de suas características, o reforço da Constituição e dos direitos fundamentais.
O que muda? No sistema anterior, a gente tinha a Constituição como uma mera carta política, que estabelecia as regras do jogo (quem vota as leis, como elas são votadas etc.), mas seria válida do mesmo jeito uma lei que contrariasse direitos fundamentais, por exemplo, proibindo mulheres de usar biquíni (um abraço pro Jânio Quadros) ou estabelecendo que todos as obras impressas ou audiovisuais devam passar pela análise do governo antes da publicação (parte do famoso AI-5). Com o Estado Democrático de Direito, adotado pelo Brasil com a Constituição de 1988, as leis e os atos do governo, passam a ter limites de conteúdo a partir dos direitos fundamentais, por isso, diz-se que a Constituição ganha “força normativa” (Konrad Hesse).
Com essa força normativa, o judiciário ganha um novo papel, o de fiscalizar os outros poderes para garantir o respeito à Constituição. A ideia é muito boa, mas, lembrando do filme do Batman, se o poder absoluto corrompe absolutamente, o poder supremo deve corromper supremamente. É aqui que entra o ativismo judicial.
Bem, na verdade, o termo ativismo judicial não surge nesse cenário do Estado Democrático, mas é um pouco anterior. Ele foi cunhado em 1949 pelo historiador Arthur Schlesinger Jr. para se referir à Era Lochner, período entre 1897 e 1937 em que a Suprema Corte estadunidense, especialmente na figura dos 4 juízes, apelidados carinhosamente de 4 cavaleiros do apocalipse, declaravam inconstitucionais qualquer lei que ferisse o modelo econômico liberal e trouxesse pautas sociais como a limitação da jornada de trabalho.
Mas, vindo para o Brasil, acho bem interessante analisar a evolução do judiciário nesse Estado Democrático de Direito a partir de artigos científicos sobre o assunto.
Alguns artigos mais antigos, como o de Afonso da Silva, em 2005 (referências completas abaixo) criticam a postura passiva do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele deve assumir seu papel de fazer cumprir a Constituição.
Já em 2008 e 2009, a partir do televisionamento das sessões pela TV Justiça e de decisões como a de pesquisa com células tronco e da união estável homoafetiva, o cenário mudou e os autores, ainda em um tom um pouco incerto e desconfiado, começaram a perceber o crescimento do poder do STF, o que fez Vilhena Vieira, em 2008, cunhar o termo “Supremocracia”.
Em geral, o tom era mais de tentar entender o que estava acontecendo, de separar o que é apenas uma atividade de interpretar o texto e concretizar direitos fundamentais, e o que era uma atuação para além dos limites do direito, chamado ativismo judicial, muito embora autores como Streck, Barreto e Oliveira já chamavam a atenção para esses perigos.
Atualmente, além de textos mais críticos ao ativismo, temos aqueles que trazem outros problemas, como o aumento do poder individual de cada ministro do Supremo, chamado por Agulhes e Ribeiro de “Ministrocracia”, mas disso eu deixo pra falar em outra oportunidade.
Além das decisões citadas, temos outras que causam polêmica, como a possibilidade de interrupção da gravidez de feto anencéfalo, a criminalização da homofobia, a restrição do foro por prerrogativa de função, a legalidade da terceirização trabalhista em qualquer atividade, o aumento da possibilidade do corte de ponto do servidor público em greve, além da polêmica mais recente da prisão decorrente da condenação em segunda instância.
O ponto em comum nesses casos é que nenhum deles tem uma base muito clara no texto da lei ou da Constituição. Ao contrário, alguns até contrariam o sentido que a maioria das pessoas pensaria ao ler a Constituição.
Outra questão interessante, de uma perspectiva mais política, é que o ativismo não tem lado, o que pode ser facilmente visto nos exemplos que eu citei e nas decisões ultraliberais da Era Lockner. Fazendo uma generalização bem grosseira, enquanto o pessoal de esquerda apoia decisões como a do aborto de feto anencéfalo e da criminalização da homofobia, ataca as da flexibilização da terceirização e da prisão em segunda instância. Quanto ao pessoal de direita, vemos o contrário.
Mas qual é o problema de tudo isso? Não faz parte do jogo político? Sim, a discussão e divergência de ideias e opiniões é o que forma o jogo político (e destrói famílias e grupos de WhatsApp), mas é exatamente aí que essa discussão deve ficar, na política. Ainda que a gente não confie nos legisladores (mesmo sendo aqueles que elegemos pra representar nossos interesses), passar a decisão pro judiciário é apenas mudar o problema da política pra outro lugar. Só que isso não é trocar seis por meia dúzia, porque, no STF nós temos apenas 11 ministros discutindo os assuntos, aliás, 11 ministros que não representam politicamente os ideais do povo e que, em geral, têm origem e histórias de vida bem semelhanças. Além disso, eu até entendo não confiar no legislativo, mas vai me falar que você confia no Gilmar Mendes pra decidir no lugar?
E onde entra a soltura do Lula nisso tudo? Ela entra exatamente na questão da prisão em segunda instância.
Pra contextualizar rapidamente, até 2009, a regra era que a condenação na segunda instância ensejaria a prisão, ou seja, o sujeito ainda poderia recorrer pro STJ ou STF, mas recorreria preso. Em 2009, o STF entendeu que essa prática, anterior à Constituição, feria o direito à presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, pois a prisão antes do trânsito em julgado (quando não cabem mais recursos) equivaleria a presumir a culpa.
Com base nessa decisão, o Congresso, em 2011, mudou o artigo 283 do Código de Processo Penal para dizer que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, ou seja, também banindo a prisão em razão da condenação em segunda instância (tempos menos conflituosos, em que Congresso e STF eram mais amiguinhos).
Apenas há 3 anos é que o STF mudou seu posicionamento dizendo que agora pode prender em segunda instância. Ou seja, contando com a sentença desse mês, tivemos 4 mudanças bruscas nos últimos 10 anos, e 2 nos últimos 3… quanta indecisão.
Com essa última decisão de 2019, voltamos ao entendimento de 3 anos atrás, ou seja, é possível prender alguém em 4 hipóteses:
a) condenação definitiva: quando não cabem mais recursos;
b) prisão em flagrante: foi pego com a boca na botija (seja lá o que botija signifique);
c) prisão temporária: uma prisão mais rápida para ajudar na investigação ou;
d) prisão preventiva: quando há certeza de que houve um crime, o indício (a alta probabilidade) de que esse crime foi cometido por aquela pessoa e, ao mesmo tempo, a liberdade daquela pessoa apresenta algum perigo (como o de a pessoa fugir, interferir no processo ou cometer novos crimes).
Agora, desconsidere o Lula, desconsidere sua opinião política sobre o assunto e qualquer outra coisa e me responda. Lendo isto: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”; e isso: “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, você consegue dizer que existe algo que permita prender em segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado, sem que haja qualquer outro requisito?
Até é possível, fazendo uma ginástica malabarística de “interpretação”, dizer que apenas pelo texto da Constituição, não teria problema, afinal de contas, “a gente só tá prendendo ele, mas ainda estamos presumindo que ele é inocente”, que foi o que o STF falou em 2016, mas o Código de Processo Penal não deixa dúvidas de que não cabe prisão nesse caso.
Vale fazer um pequeno parênteses: se a pessoa foi condenada em segunda instância, já existe a certeza de que um crime foi cometido e o indício de que a pessoa condenada que cometeu. Assim, se houver o perigo na liberdade da pessoa (ela não apresenta risco de fuga, de cometer outros crimes, de intimidar testemunhas etc.), ela pode ser presa preventivamente. Não é isso que se está discutindo, mas sim se, mesmo quando não há perigo na liberdade, ela já será presa ainda podendo recorrer.
Pela Constituição e pela lei, a resposta parece clara, ainda que você possa não concordar que é uma boa resposta. Por isso, a decisão do STF, em 2016, foi uma decisão ativista, ou seja, a partir de uma concepção própria de justiça, que nesse caso pode ser igual à sua, mas em outros casos não vai ser, o STF mudou a Constituição e a lei, o que, em um quadro geral, é muito perigoso, pois dá, ao tribunal, um poder absoluto. Se você quiser ficar um pouco mais assustado, saiba que, segundo o ministro Barroso, talvez o que menos se importa com o texto da Constituição, o STF tem uma “função iluminista” de “empurrar a história”.
Como o texto já está longo, vou parando por aqui. Espero ter conseguido mostrar que, independente de opinião política, (de você ser um comunista ou fascista, porque parece que é só isso que existe hoje), o buraco por trás dessa e de muitas outras decisões polêmicas do Supremo, está mais abaixo que o simples concordar ou não com a decisão ou do gostar ou não do Lula (que, diga-se de passagem, não foi considerado inocente), entra num ponto de saber a quem é dado decidir sobre as questões políticas mais sensíveis? É verdade que existe uma crise muito grande na política e uma falta de confiança no legislativo, mas deixar com o judiciário não resolve o problema, apenas cria um monstro maior. A única solução que vejo, hoje, é uma participação política do povo que permita que essas questões polêmicas sejam debatidas e decididas de forma democrática.
Artigos citados diretamente:
ARGUELHES, Diego Weneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 13–32, 2018.
SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, Virgílio Afonso da (org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 115–143.
STRECK, Lênio Luiz; BARRETO, Vicente de Paulo; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Ulisses e o canto das sereias: sobre ativismos judiciais e os perigos da instauração de um “terceiro turno da constituinte”. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, São Leopoldo, v. 1, n. 2, p. 75–83 jul./dez. 2009.
VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista direito GV, São Paulo, n. 4(2), p. 441–464, jul./dez., 2008.
Outros artigos para aprofundar o tema:
BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, n. especial, p. 24–50, 2015.
BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. [Syn]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23–32, 2012.
TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Ativismo judicial: nos limites entre racionalidade jurídica e decisão política. Revista Direito GV [online]. v. 8, n. 1, p. 37-57, jan./junho. 2012.
STRECK, Lênio Luiz. O realismo ou “quando tudo pode ser inconstitucional”. Consultor Jurídico, 02 de janeiro de 2014. Senso Incomum. Disponível em: conjur.com.br/2014-jan-02/senso-incomum-realismo-ou-quando-tudo-inconstitucional.